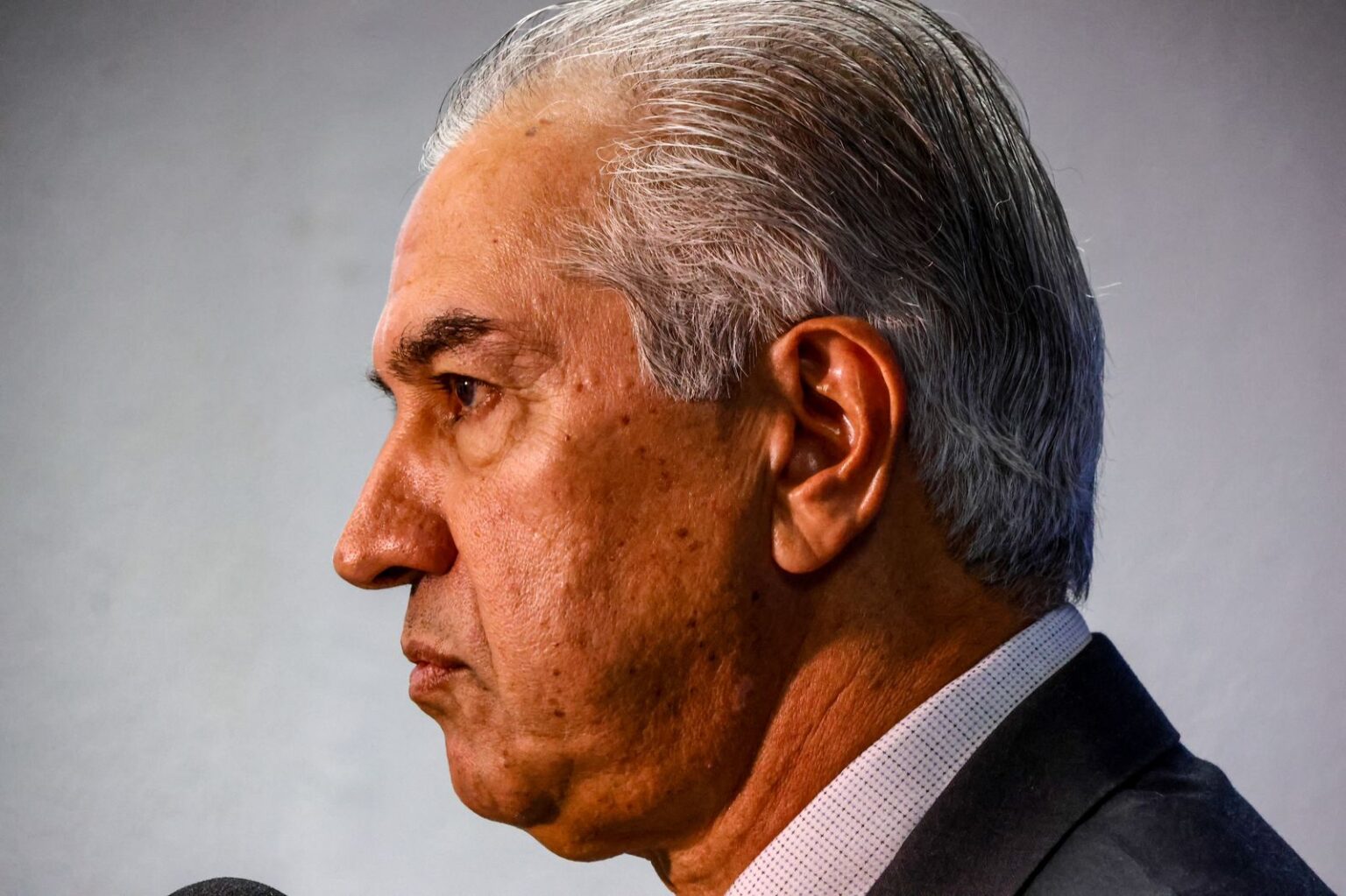A confirmação, pelo Superior Tribunal de Justiça, da condenação do ex-secretário estadual de Cultura, Cidadania e Turismo e ex-vereador de Campo Grande, Eduardo Romero, não é apenas o desfecho de um processo judicial. É o retrato de um padrão lamentavelmente familiar na política brasileira: gabinetes transformados em redutos de apadrinhamento, ausência de controle mínimo e dinheiro público tratado com a usual negligência de quem jamais teme ser cobrado.
A decisão do STJ derruba o último recurso dos réus e torna definitiva a sentença que reconhece a prática de improbidade administrativa por manter um funcionário fantasma remunerado durante mais de dois anos sem que houvesse qualquer comprovação de que ele cumprisse as atividades pelas quais era pago com recursos públicos.
Segundo as provas analisadas pela 2ª Vara de Direitos Difusos, o servidor comissionado exercia jornada integral na iniciativa privada, das 7h30 às 17h, frequentava pós-graduação nos finais de semana e ainda prestava serviços técnicos a outros órgãos, alguns deles justamente da área que deveria ser fiscalizada pelo gabinete onde estava lotado.
Diante desse cenário, é difícil acreditar que a “flexibilidade” alegada pela defesa fosse suficiente para permitir o exercício real do cargo. É mais difícil ainda acreditar na narrativa de que atividades parlamentares eram desempenhadas por e-mail, telefonemas e encontros esporádicos.
O Ministério Público foi direto: tais circunstâncias tornavam “impossível, do ponto de vista material e fático, o exercício regular das atribuições do cargo”. O gabinete, no entanto, aparentemente jamais notou a ausência nem mesmo quando o servidor ficou cinco dias afastado de seu emprego privado por atestado médico e sequer comunicou a estrutura parlamentar.
A ausência de controle de frequência, relatórios ou qualquer vestígio de atividade funcional revela não apenas negligência administrativa, mas um descaso profundo com a transparência e a responsabilidade no uso do dinheiro público.
O caso expõe uma cultura que muitos insistem em normalizar: cargos comissionados sem fiscalização, nomeações baseadas em conveniências políticas e gabinetes operando como ilhas sem regras. Romero e o então chefe de gabinete afirmam que à época não havia exigência formal de controle. Mas a falta de regra não elimina a obrigação de zelar pela legalidade, pela moralidade e pelo interesse público — princípios inscritos na Constituição, não em manuais internos.
Condenação
Com a decisão do STJ, permanecem válidas as sanções: ressarcimento de R$ 63 mil ao erário, multa civil no mesmo valor, suspensão dos direitos políticos por cinco anos, perda da função pública e impedimento de contratar com o governo por seis anos. Penalidades que, em qualquer país que leva a sério o serviço público, já seriam consideradas o mínimo.
Ao final, a alegação dos réus — de que não houve dano ao erário e de que o servidor trabalhava de forma “atípica” — não se sustentou diante da total ausência de provas de que alguma tarefa efetivamente fosse realizada.
Um sistema que só funciona quando pressionado
O caso Romero é mais um alerta sobre como a máquina pública frequentemente opera no piloto automático, tolerando práticas que, em qualquer ambiente profissional minimamente sério, seriam inaceitáveis.
A Justiça cumpriu seu papel. Mas é impossível ignorar que o problema ultrapassa a esfera individual: há um sistema que permite, acomoda e normaliza abusos, enquanto o cidadão paga a conta.
E se casos como este chocam, é apenas porque expõem aquilo que muitos ainda tentam esconder: parte da política brasileira continua funcionando como se fosse um patrimônio privado até que o Ministério Público e o Judiciário consigam, com muito esforço, lembrar que não é.